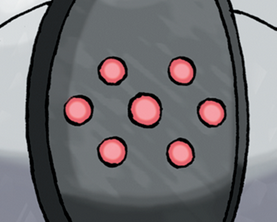Defesa: Seguro Coletivo de Confiança — Entre o Ceticismo Doméstico e a Incerteza Global
Frederico Salóes
Mestre em Ciências Militares
MBA em Marketing, Branding and Growth
Introdução
O Brasil vive há mais de um século afastado de guerras em seu território e, por isso, a maioria dos brasileiros não enxerga ameaças externas imediatas à soberania nacional. Essa ausência de sensação de perigo foi descrita com clareza por um ex-Comandante do Exército como um tema que se torna “abstrato perante a consciência nacional” justamente porque a sociedade “não percebe ameaças à soberania e aos interesses do país”. Sem a pressão psicológica de um inimigo à porta, os gastos militares – hoje pouco acima de 1 % do PIB, segundo levantamento do Military Balance 2025 – soam, para muitos, como um luxo supérfluo frente a carências visíveis em saúde, educação e segurança pública.
Paradoxalmente, quando a mesma população é consultada sobre o papel das Forças Armadas, surge um patrimônio intangível que nenhum orçamento fabrica: confiança e credibilidade. A pesquisa nacional do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2011, mostrou que 68 % dos entrevistados consideram o trabalho militar “muito bom ou bom”, e 70 % defendem aumentar “muito ou razoavelmente” os gastos com equipamentos militares. Ou seja, ainda que a sensação de guerra seja distante, a sociedade reconhece valor na instituição que simboliza coesão, disciplina e prontidão para servir – atributos ausentes em outros serviços públicos.
Esse capital simbólico transforma a Defesa num repositório nacional de confiança e credibilidade: quando há crise sanitária, econômica ou climática, recorre-se às tropas para erguer hospitais de campanha, distribuir água no semiárido ou reconectar pessoas em catástrofes. O cidadão comum pode não “comprar” mísseis ou fragatas, mas “compra” a certeza de que alguém chegará primeiro quando tudo falhar e lá permanecerá até que tudo esteja pronto para que as instituições públicas possam retomar suas atividades. No início da década de 2010, o Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) registrava que as funções mais valorizadas para as Forças Armadas eram “combater a criminalidade em conjunto com as polícias” e “defender o país em caso de guerra” – dois extremos de uma mesma expectativa de proteção.
O desafio, portanto, é converter essa confiança social em capacidades humanas, materiais e intelectuais que se mantenham prontas 365 dias por ano, sob pressões orçamentárias e culturais que minimizam a importância da Defesa. Afinal, as crises modernas não respeitam categorias: a pandemia de Covid-19 demonstrou que choques sanitários podem paralisar cadeias de suprimento e exigir logística militar; disrupções econômicas decorrentes de conflitos externos elevam preços de fertilizantes e impactam o agronegócio; e tensões digitais expõem cabos submarinos e satélites a ataques. Investir preventivamente em poder militar significa garantir liberdade de ação num mundo onde a incerteza virou regra.
Mais do que discutir valores absolutos em reais, a questão central é reconhecer que Defesa é responsabilidade de toda a sociedade. Não basta confiar: é preciso sustentar, com recursos previsíveis e políticas de longo prazo, um instrumento armado capaz de responder ao espectro complexo de ameaças que fazem o nível político demandar a aplicação do seu poder militar, que vai desde a guarda de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) à defesa do território amazônico. Sem essa relação entre capital simbólico e capacidade real, a confiança se resume ao etéreo; com ela, converte-se em seguro coletivo da sociedade brasileira contra o imprevisível.
Alto preço, valor intangível
Desde o início da guerra na Ucrânia, o mantra em matéria de Defesa nas capitais ocidentais passou a ser “gastar mais e gastar mais rápido”. A Europa elevou seus orçamentos de Defesa 11,7 % em termos reais apenas em 2024, décimo ano consecutivo de alta, impulsionada tanto pelo temor de Moscou quanto por um compromisso político de destinar, no mínimo, 2 % do PIB ao setor. Casos emblemáticos abundam: a Suécia, recém-ingressa na Organização do Tratado do Atlântico Norte, dobrou o orçamento em quatro anos e projeta chegar a 2,6 % do PIB até 2028; a Noruega lançou um plano de doze anos que adicionará US$ 56 bilhões ao caixa militar, prevendo novas fragatas, submarinos e brigadas completas. A mensagem é clara: num ambiente de incerteza crônica, pouco custa tão caro quanto a vulnerabilidade.
O Brasil, entretanto, mantém outra cadência. Desde 2000, o gasto oscilou em torno de 1,4 % do PIB, com quase três quartos da dotação consumidos em folha de pagamento e pensões; investimentos raramente superam 10 % do total. Essa parcimônia reflete uma cultura estratégica em que ameaças externas “não batem à porta” e, portanto, o alerta só soa quando a porta já cedeu. Em 1866, por exemplo, a Guerra do Paraguai parecia questão de “três meses até Assunção”; derrotas sucessivas e surtos de cólera levaram o Império a convocar, às pressas, Luís Alves de Lima e Silva, então Marquês de Caxias, para reorganizar um Exército exausto e torna-lo organizado e vitorioso. O padrão se repetiu na Segunda Guerra: a Força Expedicionária Brasileira saiu do papel com uma divisão dependente de navios, ração e armamento norte-americanos porque o país não dispunha de estrutura de projeção própria.
Somam-se a essa tradição reativa os efeitos dominó das macrotendências globais. A pandemia de Covid-19 evidenciou que choques sanitários podem paralisar cadeias de suprimento e exigir mobilização de meios militares para erguer hospitais de campanha; rupturas logísticas decorrentes de guerras externas disparam os preços de fertilizantes e ameaçam o agronegócio; ataques cibernéticos a linhas de comunicação marítimas desafiam a segurança de dados estratégicos. Nesses cenários, uma Defesa robusta funciona como amortecedor de crise: quem tem tropas treinadas, logística pronta e estoques estratégicos responde mais rápido e gasta menos no pico da urgência.
Estudos recentes sobre gestão de crises destacam que empregar militares em emergências “renova a legitimidade pública e reverte cortes orçamentários” — desde que os meios estejam preparados antes do desastre chegar. Do contrário, paga-se a fatura em dobro: corre-se para recompor capacidades ao mesmo tempo em que se arca com perdas humanas, econômicas e informacionais evitáveis. Um país incapaz de identificar ameaças em tempo oportuno não percebe quando elas chegam; resta-lhe reagir com remendos, muitas vezes heroicos, porém caros e limitados.
Enquanto nações parceiras na OTAN já discutem metas de 3 % e até 5 % do PIB, o Brasil ainda debate se 1,5 % seria luxo ou necessidade. A experiência histórica e as tendências contemporâneas sugerem que esperar a próxima surpresa pode sair infinitamente mais caro do que estabelecer um investimento sustentado e previsível capaz de garantir, hoje, a liberdade de ação de amanhã.
Geografia benigna, riscos sistêmicos
A impressão de que o Brasil vive num “condomínio seguro” — sem furacões, sem vulcões e protegido por vizinhos pacíficos — costuma anestesiar o instinto de autoproteção do brasileiro. De fato, a geografia ajuda: somos o quinto maior país em área contínua e não travamos uma guerra de fronteira há mais de um século. O paradoxo, porém, é que justamente essa geografia abriga três ativos que constam na lista de desejos do século XXI. Primeiro, a agricultura: o País desponta entre os maiores exportadores de grãos e proteínas, colocando comida no prato de quase um décimo da humanidade. Segundo, a biodiversidade: Amazônia e Cerrado guardam mais espécies de plantas e animais do que todo o Hemisfério Norte — um tesouro genético capaz de gerar remédios, bioplásticos e energias limpas. Terceiro, a água: cerca de 12 % da reserva superficial global corre pelos nossos rios, num planeta que já encara a água doce como o “novo petróleo”. Em teoria, essa combinação deveria garantir prosperidade duradoura; na prática, ela projeta uma vitrine que atrai cobiça e pressões internacionais.
Essa cobiça raramente se apresenta em forma de soldados e tanques de guerra à porta das nossas fronteiras. Ela chega por laboratórios estrangeiros que patenteiam princípios ativos extraídos da floresta sem pagar royalties; por campanhas internacionais que clamam por um “controle global” da Amazônia como se a soberania brasileira fosse negociável; e por facções criminosas que, a partir de pistas clandestinas na fronteira, financiam mineração ilegal, narcotráfico e contrabando de armas. Sempre que o Estado se fragiliza nesses espaços, esse vácuo vira terreno fértil para negócios ilícitos, pagamentos em criptomoedas e violência local.
Mesmo quando não há mão do homem, fatores externos mexem diretamente com o bolso do brasileiro. A guerra na Ucrânia encareceu fertilizantes importados; qualquer tensão no Golfo Pérsico sacode o diesel que move nossos tratores; secas prolongadas no Sul e Centro-Oeste reduzem safra e pressionam o câmbio; enchentes recordes no Sul testam a capacidade de resposta do poder público. O choque lá fora repercute aqui dentro e revela que abundância, sozinha, não sustenta prosperidade: precisa estar amparada por um colchão de segurança.
A fronteira dos riscos não se limita ao que se vê. O agronegócio depende cada vez mais de tecnologia, GPS e cabos de fibra óptica que cruzam o Atlântico. Um ciberataque a esses sistemas atrasaria colheitas, travaria portos e causaria prejuízos maiores do que qualquer praga de lavoura. Nas redes sociais, campanhas bem orquestradas podem rotular nossa produção como “vilã ambiental” e fechar mercados sem que um centímetro de fronteira seja violado. Em suma, algumas das ameaças mais graves chegam por teclados a milhares de quilômetros de distância, mas provocam estragos tão concretos quanto uma invasão convencional.
É nesse tabuleiro que a Defesa entra. Como lembrava o Barão do Rio Branco, a diplomacia é a linha de frente para garantir a paz, mas precisa falar em nome da força, não da fraqueza. Proteger nossos ativos estratégicos implica ter radares que detectem voos clandestinos, navios que escoltem rotas de exportação, satélites próprios para vigiar queimadas e fibras ópticas blindadas contra hackers. Implica também dispor de tropas de engenharia capazes de lançar pontes no mais curto prazo após um desastre natural e helicópteros prontos para resgatar comunidades isoladas. Mas tudo isso só convence se estiver sustentado por gente bem treinada, munição disponível, equipamentos modernos e uma cadeia logística que funcione sem tropeços. A credibilidade, ensina a literatura de dissuasão contemporânea, repousa tanto na capacidade de empregar força quanto na percepção de que ela será realmente empregada quando necessário. Em outras palavras, a Defesa brasileira precisa ser tão logística quanto bélica, tão diplomática quanto operacional, tão ambiental quanto territorial. Transformar a fartura natural do país em vantagem de longo prazo passa, inevitavelmente, por reconhecer que qualquer trunfo vira vulnerabilidade quando não há musculatura — material, humana e simbólica — para protegê-lo. Se quisermos continuar sendo o “sujeito” e não o “objeto” nos debates sobre a Amazônia, exportando proteína para o mundo e garantindo água para as próximas gerações, precisamos olhar além de um “país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza”.
Confiança como ativo institucional
Entre os ativos intangíveis do País, talvez nenhum seja tão sólido quanto a confiança que a população deposita nas Forças Armadas. Pesquisa Datafolha divulgada em junho de 2025 mostra que 55 % dos entrevistados sentem orgulho das três Forças; entre os mais jovens (16 a 24 anos) o índice sobe para 65 %. No levantamento do IPESPE, de dezembro de 2024, 58 % declararam confiar “muito” ou “alguma coisa” nos militares, a pontuação mais alta entre todas as instituições avaliadas, superando inclusive igrejas e imprensa. Os números não são um raio em céu azul: eles refletem uma história em que a Defesa se entrelaçou ao próprio processo de construção do Estado — das expedições de engenharia do Exército durante o Império à integração de Terras Altas no século XX.
O país é, nesse sentido, sui generis. Não precisou de uma grande guerra externa para forjar identidade coletiva; o papel agregador coube, em grande parte, às tropas que abriam estradas, erguiam quartéis e fundavam vilas em sertões remotos. O Exército foi a argamassa da nação. Essa ligação simbólica ajuda a explicar por que, mesmo quando o cidadão discorda de governos ou políticas, tende a separar a instituição militar da conjuntura política. Em outras palavras, quem mora no interior pode nunca ter visto um ministro, mas já recebeu atendimento em alguma ação cívico-social do Exército ou viu uma patrulha de soldados atuando no resgate durante as calamidades.
A confiança ganha contornos bem concretos toda vez que a farda deixa o quartel para resolver problema civil. É assim com a Operação Carro-Pipa, que há décadas garante água potável a mais de um milhão de nordestinos; com as missões de Garantia da Lei e da Ordem, como a que pacificou o Complexo do Alemão em 2010; e, mais recentemente, com a Operação Taquari II, em que soldados religaram cidades, distribuíram mantimentos e resgataram milhares de gaúchos cercados pela cheia. Depois da Taquari II, um levantamento de um portal gaúcho identificou que 82 % dos moradores da região atingida avaliavam a atuação militar como “ótima” ou “boa”. O mesmo ocorre com o concurso do ENEM, em que os malotes com as provas passam dias trancados em quartéis, verdadeiros cofres nacionais de confiança, onde a disciplina militar funciona como selo de garantia para que nenhum lacre se rompa, nenhuma página se adiante. Só então seguem para uma engrenagem logística especializada que os entrega, em silêncio e sincronia, às salas de aula de todo o país.
Para o marketing institucional, esses episódios valem ouro: transformam atributos abstratos como disciplina, prontidão, espírito de sacrifício, em serviço perceptível. E, como ensinam estudos recentes “credibilidade não se compra; constrói-se na interação repetida com o público”. Cada travessia restabelecida onde as águas arrastaram tudo, cada atendimento médico em uma comunidade ribeirinha isolada na Amazônia, reforça a ideia de que os militares estão disponíveis quando tudo o mais falha. Nas redes sociais, a narrativa “braço forte, mão amiga” e “#obrigadosoldado” costuma viralizar sem esforço, mesmo diante dos ataques de desinformação no ambiente Precipitado, Superficial, Imediatista e Conturbado, que se tornaram as redes sociais, conforme conceito cunhando pelo General Richard Fernandez Nunes, Chefe do Estado-Maior do Exército.
Só que confiança, por si, não paga conta de luz nem repõe munição. O mesmo Datafolha que aponta orgulho revela que apenas um terço da população acompanha o debate sobre orçamento de Defesa. Há, portanto, um hiato entre o “sim, confio” e o “sim, aceito investir”. Para que o capital simbólico vire capacidade real, é preciso traduzir reputação em planejamento de longo prazo: quadros bem treinados, estoque de munição adequado, equipamentos atualizados e manutenção em dia. Se a percepção de utilidade sustenta a legitimidade, a prontidão é o alicerce que impede essa legitimidade de ruir quando surge a crise.
O desafio está em convencer o contribuinte de que o mesmo helicóptero que resgata crianças durante enchentes precisa, em tempos de calma, treinar voo noturno e receber peças importadas. Em outras palavras, transformar a confiança em orçamentos previsíveis, críveis e permanentes, condição sine qua non para que a Força siga entregando aquilo que a sociedade “compra”: segurança, serviço e, sobretudo, a tranquilidade de saber que há alguém de prontidão quando o inesperado bate à porta.
Serviços que todo mundo vê: do Carro-Pipa ao Serviço Militar
Quando o tema é Defesa, os olhos quase sempre se voltam para blindados e caças; porém, na memória coletiva, o que mais marca são as vezes em que o uniforme verde-oliva cruza o caminho do cidadão comum em situações de aperto. É aí que o conceito de “mão amiga” deixa de ser slogan e vira experiência direta visível, tangível, mensurável. Basta lembrar o Carro-Pipa. Há mais de vinte anos, caminhões militares cortam estradas vicinais do semiárido levando água potável a povoados onde o poder público civil mal chega. O abastecimento hídrico a um milhão de habitantes evita surtos, mantém escolas funcionando e freia a migração forçada, cujo benefício social é difícil de medir, mas impossível de ignorar. Muitas famílias nordestinas associam o som do motor diesel não ao aparato bélico, mas à chegada de um bem vital que não poderia esperar a chuva cair. Esse vínculo entre farda e bem-estar é poderoso, pois fala mais alto que qualquer campanha publicitária.
No extremo oposto do mapa, a Operação Taquari II mostrou do que a tropa é capaz quando a natureza impõe um duro teste de resiliência. Em poucas horas, pontes móveis foram instaladas sobre rios que haviam engolido vias asfaltadas; helicópteros pousaram em campos improvisados para resgatar famílias ilhadas; pelotões de engenharia restabeleceram linhas rodoviárias e geradores e hospitais de campanha foram desdobrados. Depois de passada as chuvas, lideranças gaúchas afirmaram que o Exército foi “o primeiro a chegar e o último a sair”. O resultado foi uma curva de aprovação que disparou nos jornais locais, não por causa de comunicados formais, mas porque cada morador resgatado e amparado virou testemunha ocular da eficiência e eficácia militar.
Num terreno igualmente sensível, está a Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Quando a segurança pública fica em xeque, seja em grandes eventos, seja em picos de violência urbana, a tropa é demandada como escudo institucional. A simples presença de militares armados e disciplinados em locais estratégicos reduz a percepção de insegurança, transmite sensação de controle e confere tempo para o poder público reorganizar suas tarefas de segurança. Há, claro, debate legítimo sobre os limites da GLO, mas é inegável que a população associa esse tipo de operação a uma espécie de “último recurso confiável” quando outras estruturas estão fragilizadas.
Por fim, há a engrenagem menos visível, mas talvez a mais duradoura: o Serviço Militar Obrigatório. Todos os anos, cerca de 80 mil jovens incorporam-se às fileiras e aprendem noções de civismo, liderança e disciplina que levam consigo para o mercado de trabalho e multiplicam esses valores na sociedade. Num mundo onde várias democracias discutem a retomada da conscrição, como Alemanha, França e Suécia, o Brasil possui, desde 1908, um mecanismo de mobilização que já provou sua utilidade em catástrofes naturais e operações de paz. Ao oferecer formação e sentido de pertencimento, o serviço gera coesão social, reforça o capital de confiança citado no item anterior e mantém uma reserva treinada que pode ser acionada em grandes emergências.
Esses exemplos ajudam a explicar por que, quando se mede a credibilidade das instituições, as Forças Armadas aparecem no topo. O cidadão pode não entender as nuances de um míssil antinavio, mas reconhece o valor da mobilidade urbana depois que tratores verde-oliva retiram entulhos que vieram com fortes chuvas e inundações, da água limpa que salvou a plantação e do atendimento de saúde prestado em um Pelotão Especial de Fronteira nos limites do Amazonas. Enquanto a Defesa seguir convertendo poder de combate em serviço público perceptível, continuará a justificar cada real aplicado na sua manutenção e, de quebra, a lembrar ao país que estar pronto para a guerra passa, antes de tudo, por servir bem em tempos de paz.
Quando a confiança ganha rosto
Por trás de cada hospital de campanha desdobrado em tempo recorde ou de cada coluna de caminhões que leva água ao sertão há o que realmente sustenta a imagem de “mão amiga”: gente de carne e osso. Homens e mulheres fardados que acordam antes do sol, repetem tiro, posição e doutrina até o gesto virar reflexo. O público pode associar a farda ao blindado ou ao helicóptero, mas a confiança nasce da percepção de que há brasileiros e brasileiras capacitados, motivados e, sobretudo, dispostos a arriscar a própria vida para proteger quem talvez jamais conheçam. Esse é o ativo mais valioso de qualquer exército, insubstituível por algoritmo ou drone.
Só que vocação não floresce no vácuo. Para transformar recrutas em profissionais da Defesa é preciso material moderno, munição suficiente, simuladores que encurtem curvas de aprendizado e instrutores atualizados em táticas e tecnologias da era da informação. Também se fazem necessários alojamentos dignos, assistência médica de ponta e redes de comunicação compatíveis com a guerra na Era da Informação. Requisitos que sinalizam à tropa que o Estado leva a sério o ofício que lhes exige, em última instância, o sacrifício supremo. Quando o quartel funciona como espaço de desenvolvimento e cuidado, a motivação deixa de depender apenas do apelo patriótico e se ancora em perspectivas de carreira, inovação e pertencimento. Investir no ser humano é, portanto, a forma mais direta de proteger o capital de confiança construído com a sociedade. Um soldado bem treinado e bem equipado atua com segurança, comete menos erros e transmite serenidade à população que o observa.
Conclusão
Quando um tema é securitizado, ou seja, é alçado à categoria de questão de sobrevivência nacional, o debate deixa de ser puramente contábil: aceita-se pagar um alto preço para proteger um valor intangível. No caso da Defesa, esse valor abrange não só a soberania territorial, mas também o capital moral que sustenta a coesão social nos momentos de crise. Ao legitimar investimentos extraordinários em preparo, prontidão e inovação, a securitização cria o ambiente em que transparência, eficácia e comunicação podem transformar confiança coletiva em poder de combate.
Pense em uma rede de lanches que nasceu para vender hambúrguer, mas atrai multidões pelo milk-shake. O cardápio principal — carne entre dois pães — continua intocado e demandando a maior fatia de recurso da rede. Anos depois, uma gigante estrangeira tentou reproduzir a receita, mas não arrancou o mesmo entusiasmo do público. O curioso é que a rede brasileira, continua há mais de sete décadas especializada em hambúrgueres, simplesmente descobriu que o carro-chefe perceptivo e afetivo de seu público é o milk-shake
Algo parecido explica o vínculo do brasileiro com suas Forças Armadas. A razão de existir do instrumento militar é dissuadir e, se necessário, combater. Contudo, o que faz o cidadão apoiar e, por conseguinte, defender maior investimento é a credibilidade: a convicção de que, diante de desastres naturais, secas, crises sanitárias ou grandes tribulações nacionais, haverá uma instituição disciplinada e pronta a servir quando todo o resto falhar.
Esse crédito emocional nasce de uma cadeia positiva. Primeiro, transparência: ela aglutina confiança, aproxima parceiros e expõe, sem segundas intenções, o que se quer alcançar, tendo o Estado brasileiro como farol permanente da proteção. Depois, eficácia, que entrega resultados palpáveis com austeridade nos recursos. Por fim, comunicação clara, que permite à população compreender o esforço e sentir-se parte dele. É o “marketing do servir”: resolver necessidades reais, mostrar como se faz e devolver sentido coletivo ao ato de proteger. Cada operação humanitária, cada missão logística, cada estabilização transforma poder de combate em valor público e fortalece o elo de confiança entre farda e sociedade.
Manter essa confiança sem abrir mão do nosso produto principal, a dissuasão, porém, exige um quarto pilar: recursos sustentáveis e permanentes. Transparência e eficácia só sobrevivem quando há dotação estável para horas de voo, munição de treinamento, manutenção de helicópteros, comunicações satelitais e prontidão de batalhões de engenharia. É preciso um orçamento previsível, blindado de contingências que corroam peças críticas justamente quando elas são mais necessárias. Orçamento previsível gera prontidão; prontidão preserva a confiança; confiança legitima o investimento público; e legitimidade protege a soberania. Nessa engrenagem o contribuinte não é mero espectador: é fiador do seguro coletivo que garante liberdade de ação e ampara vidas nos momentos de maior vulnerabilidade.
Em última instância, são os homens e mulheres de farda que transformam aço, pólvora e doutrina em resultados que a sociedade reconhece. Para mantê-los motivados e prontos, não basta o apelo patriótico: é preciso carreira estruturada, treinamento constante, equipamentos à altura das ameaças contemporâneas e apoio às famílias que ficam na retaguarda. Quando o Estado investe nesse capital humano, completa-se o ciclo virtuoso que sustenta a legitimidade da instituição: profissionais bem preparados geram ações eficazes, consolidam a imagem de competência e reforçam o reservatório de credibilidade que ampara a Defesa em tempos de paz ou de crise.
A abundância natural e a geografia favorável do Brasil só se convertem em vantagem concreta quando protegidas por esse binômio de músculo material e gente qualificada, bem remunerada e movida por vocação de servir. O desafio da próxima década não é escolher entre defesa ou bem-estar, mas compreender que uma Defesa bem estruturada — transparente, eficaz e financeiramente sustentada — constitui condição prévia para qualquer projeto duradouro de prosperidade nacional.
O post Defesa: Seguro Coletivo de Confiança — Entre o Ceticismo Doméstico e a Incerteza Global apareceu primeiro em DefesaNet.