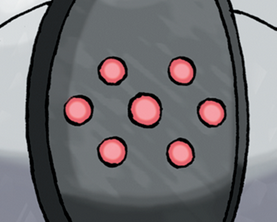“Não vivemos uma era de mudanças, mas uma mudança de era”, na qual a riqueza migra do aço e do petróleo para o conhecimentoeopolítica da Informação: o protagonismo dos dados no poder contemporâneo“
Frederico Salóes
Mestre em Ciências Militares
MBA em Marketing, Branding and Growth
Introdução
Portugal e Espanha dominaram as rotas atlânticas porque possuíam navios, canhões e cartas náuticas secretas. Mais tarde, o Reino Unido assumiu a primazia quando carvão, teares mecânicos e ferrovias definiram a primeira Revolução Industrial. Tempos depois, os Estados Unidos ampliaram essa vantagem ao controlar o petróleo e a linha de montagem. Cada virada histórica deslocou o centro de gravidade do poder econômico de um conjunto de bens tangíveis para outro, os quais passamos a chamar de fatores de produção. Hoje, porém, o eixo da balança alterou-se para um território menos visível: dados.
Como resumiu o Professor da UFRJ, Marcus Cavalcanti, “não vivemos uma era de mudanças, mas uma mudança de era”, na qual a riqueza migra do aço e do petróleo para o conhecimento. A estatística acompanha o aforismo, pois o Banco Mundial calculou que, já em 2000, 55% da riqueza global derivava de ativos intangíveis — capital humano, patentes, software, marcas — superando terra, energia e capital físico juntos (WORLD BANK, 2006). Poucos anos depois, o Bureau of Economic Analysis registrou que as exportações norte‑americanas de serviços privados, royalties e licenças (US $ 404 bi) ultrapassavam, pela primeira vez, as de bens manufaturados de alto valor agregado (US $ 383 bi), sinal inequívoco da virada do tangível para o intangível (REINSDORF; SLAUGHTER, 2009).
A ascensão dos dados, porém, não aboliu a disputa geopolítica, mas reconfigurou‑a. Os pesquisadores norte-americanos Rosenbach e Mansted qualificam a nova fase como um gargalo geopolítico em que basta revogar licenças de software de navegação, bloquear chaves de encriptação para imobilizar navios em seus próprios portos e colocar oleodutos em modo fail‑safe para que países literalmente parem de funcionar.
Mark Galeotti amplia o diagnóstico ao falar na “weaponisation of everything”, caracterizando chips, blockchains e até memes como convertidos em vetores de pressão política e militar (GALEOTTI, 2023). A Força Terrestre brasileira reconhece esse terreno volátil em seu Manual de Fundamentos – Operações de Convergência 2040, publicando em 2023, que alerta para a inevitabilidade de lidar com os “4V da informação” — velocidade, veracidade, volume e variedade — na intenção de “conduzir o processo decisório a bom termo”. Quando esses vetores escapam ao controle, surge aquilo que o Gen Richard Fernandez Nunes denomina ambiente PSIC: precipitado, superficial, imediatista e conturbado.
É tentador ver nessa dinâmica uma complexidade inédita, mas a história desmente a novidade absoluta. Barbara Tuchman, em sua obra “A Marcha da Insensatez”, demonstra que líderes rotineiramente ignoraram avisos ou se deixaram levar por sinais contraditórios. O que mudou é a escala dos 4V que hoje intensifica essas armadilhas.
A velocidade de um tweet viral pode sublevar milhões de pessoas que se sentem obliteradas por sistemas socioeconômicos estagnados antes que um chanceler redija uma nota, o volume dos data lakes alimenta modelos de big‑data que reprecificam fretes e seguros a cada variação climática, a variedade de sensores de drones a satélites comerciais exibe quase em tempo real o desmatamento de florestas, disparando gatilhos de sanções ambientais, e a incerteza sobre a veracidade de vídeos gerados por Inteligência Artificial potencializa a propaganda adversa.
Some‑se a isso robôs portuários que, ao perderem acesso a chaves de encriptação, paralisam cadeias de exportação, algoritmos de computação quântica capazes de reconfigurar rotas logísticas em segundos, elevando ou derrubando o preço do carbono antes que um navio zarpe, fazendo com que a precipitação contemporânea não nasce do desconhecido, mas da abundância mal filtrada.
No passado, informações de campo levavam semanas para chegar às cortes. Hoje, elas viajam à velocidade da luz e, ao fazê‑lo, podem reconfigurar mercados, alianças e reputações antes que se convoque a primeira reunião de crise. A geopolítica da informação tornou‑se o cenário comum de todas as sociedades e deixou de ser apenas uma caixa de pandora. Sendo tratada com ética e pensamento crítico, transforma‑se em alavanca de soberania democrática, reduzindo riscos e multiplicando escolhas estratégicas.
Da geopolítica dos espaços físicos à geopolítica dos fluxos de dados e informações
A tradição geopolítica nasceu da disputa por espaços físicos. No fim do século XIX, Alfred T. Mahan afirmava que o controle das rotas oceânicas, estreitos, pontos de reabastecimento e bases avançadas decidiria a primazia marítima. Pouco depois, Halford Mackinder projetou que quem dominasse o “Heartland”, ou o coração da terra, euro‑asiático teria a projeção sobre os bordos marítimos, enquanto Karl Haushofer traduzia o raciocínio em autarquia continental: integrar espaço vital, recursos e povo sob uma mesma autoridade significava segurança estratégica (FUNDAMENTOS DA GEOPOLÍTICA CLÁSSICA, 2021). Todos partiam da mesma premissa que o poder derivava da posse de espaços físicos e da liberdade de ação, seja sobre oceanos, planaltos ou vales fluviais.
A década de 1970 relativizou essa lógica. O relatório Limits to Growth, do Clube de Roma, introduziu a Tríade Planetária materializada pela população, energia e meio ambiente. A geopolítica da tríade advertia que a competição deixaria de ser apenas cartográfica para tornar‑se ecosistêmica, sujeitando a limites biofísicos globais (MEADOWS et al., 1972) e impondo limites ao crescimento das Nações, conduzindo, de maneira solerte, o chamado terceiro mundo a uma estagnação.
Nos anos 1990, o francês Pierre Lellouche acrescentou a noção de geopolítica da incerteza em que fronteiras ideológicas ruíam, e em seu lugar surgiam volatilidade financeira, terrorismo, epidemias — ameaças difusas, sem endereço geográfico fixo (LELLOUCHE, 1995). Essas teses não negavam Mahan nem Mackinder; apenas mostravam que novos vetores podiam anular vantagens territoriais se não fossem compreendidos.
Na virada do milênio emerge a geopolítica da informação. Rosenbach e Mansted (2019) definem a informação como o “insumo estratégico mais valioso do nosso tempo”: eles transitam mais rápido que navios, atravessam fronteiras sem passaporte e, ao contrário do petróleo, multiplicam‑se quando compartilhados. Cabos submarinos, satélites de órbita baixa, data centers e blockchains configuram os corredores invisíveis do século XXI.
Eles não eliminam a importância de oceanos e planaltos; ao contrário, determinam como esses espaços físicos serão usados, priorizados, monetizados e, sobretudo, defendidos. Um superpetroleiro no Golfo depende do regime de marés e das chaves criptográficas que acionam suas bombas de lastro, uma carga de soja que cruzou o Brasil do cerrado mato-grossense ao Porto de Miritituba, no Pará, precisa tanto do calado do Rio Tapajós quanto da largura de banda que trafegam os dados de deslocamento e transmite seu certificado de carbono.
Esses novos corredores criam pontos de estrangulamento sutis. Revogar licenças de software de navegação pode imobilizar navios com mais eficiência que um bloqueio naval. O uso de malware capaz de desativar sistemas de irrigação torna inúteis milhares de hectares férteis. O bloqueio ou spoofing de sinais GPS pode atrasar colheitas em zonas agrícolas tanto quanto interromper manobras militares, mostrando que tratores e latifúndios dependem tanto de satélites quanto blindados e operações de guerra (GALEOTTI, 2023).
No plano cognitivo, dados altamente segmentados podem alimentar campanhas de difamação on‑line, distorcendo percepções e influenciando a democracia (ROSENBACH; MANSTED, 2019). Blackwill e Harris (2016) apontam que tarifas, sanções tecnológicas e manipulação de plataformas digitais convertem‑se em instrumentos de Estado tão potentes quanto a artilharia. A equação clássica que relaciona posse e circulação continua válida, porém na era digital posse significa dominar o conhecimento e empregar a informação de forma estratégica, enquanto a circulação ocorre nos impulsos luminosos das fibras ópticas, em bits que carregam valor, legitimidade e reputação e atravessam as fronteiras físicas que antes limitavam os Estados modernos.
A genealogia, portanto, alinha‑se assim: Mahan — mares; Mackinder/Haushofer — terras; Clube de Roma — limites ao crescimento; Lellouche — volatilidade; Rosenbach & Mansted — dados. O que muda não é o valor do território, mas o meio que o articula ao poder. Oceanos, reservas de água e jazidas continuam centrais; só que, sem os fluxos digitais que os descrevem e a confiança que certifica esses fluxos, tais ativos tangíveis podem ser rebaixados a passivos. Na interseção entre mapas de papel e dashboards de dados, revela-se que a informação está intimamente relacionada à aplicação e manifestação do Poder Nacional, moldando as disputas do século XXI.
A informação como integradora dos instrumentos do Poder Nacional no século XXI
A geopolítica da informação deslocou a arena de influência dos espaços tangíveis, mapeados por Mahan ou Mackinder, para redes que atravessam cabos ópticos e satélites comerciais. Essa mudança não elimina a necessidade de categorias clássicas para descrever o Poder Nacional, mas exige que sejam lidas à luz dos fluxos digitais que conferem ou negam legitimidade em milésimos de segundo.
A Doutrina Militar de Defesa do Brasil, publicada ainda em 2007, apresenta cinco expressões que compõem o Poder Nacional brasileiro – política, econômica, psicossocial, militar e científico‑tecnológica (BRASIL, 2007). Embora formulado antes da explosão das mídias sociais e da computação em nuvem, o texto reconhece que essas dimensões se interpenetram e que a eficácia de uma depende da sincronia com as demais, pois a segurança do Estado depende tanto de decisões de governo quanto de coesão social, robustez produtiva, capacidade de militar e domínio tecnológico.
No século XXI, essa interdependência materializa‑se na camada informacional: decisões políticas ganham ou perdem apoio popular em feeds de redes, acordos econômicos recuam diante de pressões de hashtags ambientais, moral de tropa oscila sob bombardeios de deepfakes e até a pesquisa científica disputa patentes em repositórios acessíveis a qualquer rival com conexão de banda larga.
Nos Estados Unidos, o manual de publicação conjunta das JP 1 – Doctrine for the Armed Forces of the United States emprega outra sigla que se popularizou no mundo ocidental: DIME, formada pelos instrumentos Diplomatic, Informational, Military e Economic (UNITED STATES, 2017). A adoção do acrônimo acelerou‑se após 2001, quando Washington percebeu que a resposta ao terrorismo exigia coordenação entre discursos de autoridades públicas, guerra cibernética, ações militares de precisão cirúrgica e bloqueio financeiro.
O DIME tornou‑se, então, um idioma comum em entidades multilaterais, servindo como atalho conceitual para alinhavar coalizões rápidas em cenários de crise. O manual destaca que o instrumento Informacional é “onipresente” e pode ser empregado por Estados, empresas ou grupos não estatais, razão pela qual a coordenação entre os quatro vetores torna‑se indispensável. Embora a matriz brasileira conte com um vetor psicossocial explícito e destaque o eixo científico‑tecnológico, as correspondências são evidentes: diplomacia toca o político, informação permeia o psicossocial, força militar mantém sua identidade e economia dialoga com recursos produtivos. Ambos os modelos descrevem alavancas idênticas, separados apenas pelo rótulo e pelo contexto de origem.
A relevância da comparação reside na camada que os une: a informação. Hoje, cada instrumento desses modelos opera em um ambiente onde a validade de um dado pode ser contestada em minutos por um vídeo viral e onde a confiabilidade de um contrato depende da capacidade de criptografá‑lo contra vazamentos ou sabotagem. Ao colocar a estrutura brasileira de cinco expressões lado a lado com o quadro DIME, fica claro que a geopolítica da informação não substitui o poder clássico, mas amplia‑o. Nesse cenário, alinhar as categorias doutrinárias nacionais ao vocabulário DIME não é renunciar à própria matriz, mas potencializá‑la: quanto mais fluente o Brasil for nesse idioma de poder, maior será sua capacidade de projetar recursos tangíveis e intangíveis em um espaço global onde valor, legitimidade e reputação circulam na velocidade incapaz do cérebro humano processar.
A diplomacia precisa de reputação digital para persuadir, a economia depende de dados confiáveis para precificar commodities, a psicossocial sustenta‑se na construção de narrativas legítimas, a ciência requer proteção de propriedade intelectual e a força militar necessita de redes seguras para o exercício do comando e controle. Assim, soberania no século XXI não se mede apenas em quilômetros de costa ou hectares de de floresta intocada pelo homem; mede‑se também na solidez da arquitetura informacional que liga esses valores físicos à esfera da opinião pública global.
A diplomacia que antes dependia de notas verbais e telegramas agora precisa navegar em redes que funcionam em escala de segundos. Em 2018 o Ministério das Relações Exteriores do Canadá tuitou que estava seriamente preocupado com a prisão de ativistas de direitos humanos na Arábia Saudita. Riad respondeu no mesmo dia expulsando o embaixador canadense, congelando comércio e cancelando vistos de estudantes. O episódio deixou claro que um único post público, amplificado por algoritmos, pode disparar retaliações estatais de largo espectro sem passar pela timidez das chancelarias tradicionais. Anos mais tarde, circulou na internet a foto de um ministro europeu em videoconferência com a chanceler de Taipé.
O registro viralizou antes que os serviços protocolares conseguissem explicar a circunstância e Pequim reagiu com protestos formais. O caso exemplifica a “twiplomacia” que Rosenbach e Mansted descrevem como disputa de legitimidade travada em público enquanto as chancelarias ainda redigem comunicados (ROSENBACH; MANSTED, 2019). Nesse novo palco, credenciais digitais e controle de narrativa valem tanto quanto antigos passes diplomáticos.
A esfera informacional tornou‑se palco de influência cultural e de sabotagem psicológica. O sucesso orgânico do K‑pop nos rankings de streaming transformou clipes de três minutos em instrumento de soft power geopolítico: o aumento de turistas que visitam Seul impulsiona acordos bilaterais de isenção de visto, marcas internacionais contratam estilistas coreanos para ganhar espaço em feiras de moda europeias e, em organismos como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, coalizões de países do Sudeste Asiático passaram a apoiar propostas sul‑coreanas sobre patentes audiovisuais, reconhecendo a liderança cultural do país (PIERCY, 2023).
Dessa forma, métricas de engajamento digital convertem‑se não só em receitas de exportação cultural, mas em dividendos diplomáticos e normativos que reforçam a posição estratégica da Coreia do Sul. No lado sombrio, as mesmas ferramentas financiam redes de bot farms que miram processos democráticos. Países ocidentais registraram campanhas que, apoiadas em micro‑segmentação de anúncios, semearam dúvidas sobre urnas eletrônicas em vários países latino‑americanos (ROSENBACH; MANSTED, 2019). A disputa deixa de ser narrativa contra narrativa e passa a ser modelo algorítmico contra modelo algorítmico, onde o atraso de minutos pode cristalizar percepções definitivas.
O domínio militar absorveu rapidamente tecnologias civis. Na guerra da Ucrânia quadricópteros vendidos em lojas de hobby, combinados a software de correlação de fogo, reduziram o processo de targeting, materializado pelo o ciclo detectar‑decidir‑atacar para menos de dez minutos. Nesta campanha, a conectividade orbital se mostrou tão importante quanto blindagem das viaturas de combate. Depois que redes terrestres foram danificadas, milhares de terminais Starlink, constelação de satélites de órbita baixa operada pela empresa privada SpaceX, mantiveram postos de comando, drones de reconhecimento e baterias de artilharia ligados a aplicativos de correlação de alvos, permitindo que coordenadas precisas circulassem sob intenso ataque eletrônico russo.
Ao mesmo tempo, munições guiadas por GPS atingiram depósitos de combustível e centros logísticos a dezenas de quilômetros da linha de contato, enquanto forças russas tentavam degradar o sinal com bloqueadores GNSS, com sucesso muito limitado (GALEOTTI, 2023). O episódio confirma a tese de Qiao Liang e Wang Xiangsui sobre “guerra além dos limites”, na qual qualquer recurso, até constelações comerciais de satélites, pode tornar‑se arma estratégica (QIAO; WANG, 1999).
O tabuleiro econômico tornou‑se cenário de ofensivas silenciosas em que linhas de código ou decisões regulatórias podem redesenhar cadeias produtivas inteiras. Blackwill e Harris chamam esse método de geoeconomia bélica, pois tarifas, embargos tecnológicos e bloqueios de pagamentos produzem efeitos estratégicos comparáveis ao emprego da força convencional (BLACKWILL; HARRIS, 2016). O exemplo mais contundente foi a exclusão seletiva de bancos russos da rede SWIFT em 2022, medida que congelou reservas cambiais e obrigou Moscou a instituir sistemas alternativos de compensação.
No eixo de alta tecnologia, os Estados Unidos ampliaram em 2023 o controle de exportação de circuitos lógicos avançados e obrigaram a fabricante holandesa ASML a cancelar entregas de máquinas de litografia de ultravioleta extremo à China, desacelerando o avanço de semicondutores abaixo de sete nanômetros. Pequim respondeu restringindo o fornecimento de gálio e germânio, metais críticos para chips e painéis solares, reeditando a pressão que já exercera sobre terras raras em 2010. Em 2023 um ransomware plantado em atualização de sistema portuário paralisou guindastes de Roterdã a Hamburgo, afetando cotação de diesel no mercado spot europeu.
A arma não é o bloqueio físico de um estreito, mas a retirada de uma peça insubstituível da cadeia global. Mesmo instrumentos de pagamento entraram no jogo: plataformas de fintech que aceitam stablecoins podem ser vetadas em horas, como ocorreu com carteiras ligadas ao regime iraniano, gerando volatilidade que impacta desde bolsas emergentes até contratos futuros de commodities. Essa guerra de alavancas econômicas prova que as rotas marítimas do passado convivem, hoje, com gargalos de patentes, normas ISO e chips de IA cuja liberação ou retenção define quem terá acesso ao pulso da inovação.
Esses exemplos mostram que o Poder Nacional continua ancorado em aspectos físicos, mas agora se expande pelo circuito informacional que liga cada expressão da sua manifestação. A diplomacia depende da reputação digital do emissor, a informação molda a disposição popular, a força militar requer conectividade segura e o vetor econômico estrangula ou amplia fluxos por licenças de software e padrões de dados. A lógica não é nova; é a mesma que, um século antes, levava Londres a controlar cabos telegráficos para vigiar mercados coloniais ou Washington a transmitir a Voice of America para minar narrativas soviéticas.
O suporte, contudo, trocou cobre por fibra e ondas curtas por pacotes IP, e a cadência passou do despacho semanal para a latência de milissegundos. A antiga competição por estreitos marítimos prolonga‑se agora em pontos de aterrissagem de cabos ópticos, em constelações de satélites privados e em consórcios que definem padrões de criptografia quântica. Desse modo a geopolítica da informação não desenha um mapa inteiramente novo. Ela revela as veias invisíveis do corpo tradicional do Poder Nacional e, ao fazê‑lo, abre um portfólio de oportunidades ou, se mal conduzida, de vulnerabilidades.
A Geopolítica Brasileira do Século XXI: Biodigital e Geoinformacional
O Brasil reúne um conjunto incomum de riquezas tangíveis. A reserva de água doce responde por cerca de doze por cento da superfície mundial. A produção agrícola lidera exportações de soja, café e proteína animal e avança em milho e celulose. A biodiversidade terrestre destaca‑se na Amazônia e no Cerrado e estende‑se a Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa, enquanto o litoral de quase oito mil quilômetros abriga a chamada Amazônia Azul, zona econômica exclusiva rica em petróleo do pré‑sal, ventos costeiros e biota marinha com potencial farmacêutico. Esses fatores formam um capital estratégico que, embora contornado por vizinhança pacífica, perdeu a antiga imunidade trazida pela distância física (MARCIAL, 2025).
Pressões informacionais já se materializam contra esses ativos. Relatórios de desmatamento baseados em satélites comerciais alimentam campanhas de boicote a commodities e inspiram projetos de tarifa de carbono no Parlamento Europeu, convertendo pixels em barreiras de mercado (ROSENBACH; MANSTED, 2019). Narrativas que pedem a “internacionalização da Amazônia” circulam nas redes em vários idiomas e são usadas como argumento político em cúpulas ambientais.
Portos de grãos registraram incidentes de ransomware com paralisação temporária de guindastes, como ocorreu em São Francisco do Sul, em maio de 2024, revelando como linhas de código podem degradar cadeias logísticas. No campo da biotecnologia, pesquisadores alertam que sequências genéticas de plantas amazônicas já aparecem em bancos estrangeiros antes de patentes nacionais, prenunciando disputas de royalties difíceis de reverter, conforme estudo acerca do Protocolo de Nagoia, formulado pela Confederação Nacional da Indústria, em 2014.
Soluções emergem na confluência entre infraestrutura e inovação. Blockchains de rastreabilidade começam a cobrir carne e soja, fornecendo prova de origem a todo o ciclo produtivo, inclusive a pegada de carbono, expressão que indica a quantidade de gases de efeito estufa emitidos por quilo de produto desde a fazenda até o embarque. Start‑ups de agritech e clima, concentradas em polos como Piracicaba, Campinas e Recife, combinam sensores de solo, imagens de nanosatélites e análise em nuvem para monitorar áreas cultivadas e manguezais costeiros.
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações (SGDC) sustenta políticas de inclusão digital e vigilância marítima da Amazônia Azul, enquanto enlaces de fibra óptica terrestres e o cabo EllaLink reduzem a latência com a Europa, fortalecendo a posição brasileira em rotas de dados do Atlântico Sul. Repositórios genômicos soberanos em desenvolvimento oferecem salvaguarda contra biopirataria e reforçam a repartição de benefícios prevista na Convenção sobre Diversidade Biológica.
Defesa, diplomacia e desenvolvimento formam os três pilares que podem transformar esses projetos em poder. A Defesa protege a malha cibernética que une fazendas, portos e constelações de satélites. A diplomacia negocia padrões de carbono, selos verdes e normas de partilha de dados, dando respaldo jurídico a certificações que agregam valor às exportações.
O eixo do desenvolvimento amplia a base de inovação e incentiva parcerias entre Academia, empresas privadas e Forças Armadas.Juntos, esses três eixos produzem uma comunicação estratégica que não se limita a responder crises, mas que apresenta dados claros, metas verificáveis e resultados auditados, oferecendo maturidade regulatória que serve de referência a outras potências. Assim, a geopolítica da informação converte hectares, litros e sequências genéticas em poder sustentável e legitima o Brasil como exemplo de articulação entre riqueza física e soberania digital.
Conclusão
A geopolítica sempre foi a arte de combinar espaço, recursos e vontade política. A “geopolítica da informação” não revoga esse princípio; apenas expõe o componente imperceptível que ocupava desktops no final do século XX e agora estão na palma das mãos nos smartphones. Dos mares de Mahan aos satélites da Starlink, o eixo de influência migrou dos corredores físicos para fluxos digitais que cruzam cabos ópticos e informações em milissegundos nas redes sociais.
Com eles emergem os 4V: velocidade, veracidade, volume e variedade. Quando não filtrados, esses vetores produzem o ambiente PSIC — precipitado, superficial, imediatista e conturbado — que desloca decisões de Estado para cronogramas ditados por memes virais, algoritmos de anúncio ou “spoofing” de GNSS.
Cada instrumento de aplicação do Poder Nacional ganhou um passou a ter a informação, dados e fluxos digitais como um ativo para sua manifestação. Diplomacia depende de reputação digital; informação alimenta ou dissolve coesão social; forças armadas necessitam conectividade segura; e geoeconomia bélica usa licenças, chips e padrões de dados como estrangulamentos silenciosos.
Não há estratégia que se sustente caso a camada de bits que conecta esses domínios for vulnerável a ransomware, engenharia social ou narrativas adversas rapidamente amplificadas por robôs. Contudo, a informação não é panaceia. Ela influencia o como agir, mas não substitui a necessidade de blindagem física, reservas energéticas ou alianças confiáveis.
No caso brasileiro, água doce, agro‑commodities, biodiversidade terrestre e a “Amazônia Azul” formam um patrimônio gigantesco que só gera poder se estiver atrelado à soberania digital. Blockchains de rastreabilidade, repositórios genômicos nacionais e satélites de defesa tornam‑se tão críticos quanto estradas ou silos. Pressões informacionais que distorcem métricas de desmatamento ou exploram lacunas legais na bioprospecção são tão letais para a balança comercial quanto qualquer bloqueio naval. Por isso, Defesa, Diplomacia e Desenvolvimento devem operar em sinergia.
Nada disso funciona sem ética e pensamento crítico. Eles são os filtros que impedem que o 4 V empurre sociedades democráticas a decisões apressadas, abrindo espaço para atores que desprezam direitos humanos e valores universais. Objetivos geopolíticos levam décadas para amadurecer; alcançá‑los exige combinar vigilância tecnológica com integridade normativa. Quem conseguir fundamentar suas narrativas em dados confiáveis, proteger ativos físicos com arquitetura informacional robusta e cultivar uma opinião pública capaz de discernir fato de ruído terá, simultaneamente, alcance de influência e profundidade de legitimidade. Nesse equilíbrio entre tangível e intangível reside a soberania eficaz do século XXI.
O post Geopolítica da Informação: o protagonismo dos dados no poder contemporâneo apareceu primeiro em DefesaNet.