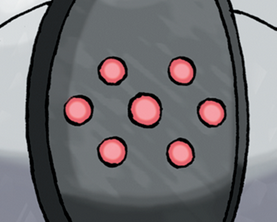Foto Bpmbardeiro Estratégico Tupolev Tu-160 destruído pela Ucrânia, Base Aérea de Pryluki in central Ukraine Feb. 2, 2001
Frederico Salóes
Mestre em Ciências Militares e Especialista em Geopolítica
Introdução
O mês de julho de 2025 marcou mais uma rodada de conversas entre lideranças envolvidas no contencioso entre Rússia e Ucrânia a fim de se buscar uma solução pacífica. A diferença, desta vez, é que as discussões acerca da formulação de garantias de segurança entre Rússia e Ucrânia passaram a fazer parte das agendas políticas. No contexto atual, existem três variáveis no centro dessa análise: liderança estratégica, comunicação estratégica e diplomacia militar. O conceito de security assurances descreve compromissos desenhados para reduzir incentivos à proliferação e à escalada, servindo como ponte entre dissuasão e acomodação; sua eficácia depende menos da forma jurídica e mais da credibilidade de quem promete e do alinhamento entre intenções, capacidades e sinais enviados (KNOPF, 2012).
No caso russo-ucraniano, a compreensão das garantias de segurança só se torna inteligível quando inserida em um arco histórico que se inicia do Século XX, com a Revolução Bolchevique, em 1917, passa pela dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), e chega no Século XXI, culminando com a invasão russa no leste da Ucrânia. O estudo da geoestratégica destacou cedo a vocação ucraniana de pivô na arquitetura euroasiática, pois sua existência independente limita pretensões imperiais russas, ao passo que sua captura reconfiguraria equilíbrios regionais (BRZEZINSKI, 1997). Em paralelo, a chamada doutrina Primakov consolidou, a partir dos anos 1990, três vetores de política externa russa: busca de multipolaridade, primazia no “exterior próximo” e oposição à expansão da OTAN (RUMER, 2019). Esses antecedentes conformam linhas de ressentimento e de identidade estratégica que permeiam a leitura contemporânea do conflito e condicionam a disposição a aceitar e honrar quaisquer garantias.
Nesse contexto, a comunicação estratégica deixa de ser adereço e passa a constituir a arquitetura de credibilidade que reduz o hiato entre dizer e fazer. A doutrina da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) ressalta que a comunicação, entendida como mentalidade sustentada por processo e capacidades, oferece coerência nacional para enfrentar ameaças na Era da Competição, que vai do entendimento do ambiente à orquestração de instrumentos de influência (NATO, 2021). No Brasil, a doutrina recente define que comunicação estratégica é tratada no nível político-estratégico como mentalidade e método para alinhar propósito, narrativa e ação. Seus efeitos variam conforme as circunstâncias de tempo e espaço, onde tudo comunica, e se não for sincronizado, perde-se a confiança em quem comunica, lembra Nunes (2019). Essa governança comunicacional é condição para a credibilidade de qualquer garantia, uma vez que compromissos soam vazios quando mensagens e comportamentos se desalinham.
Por fim, a solidez de qualquer arranjo a fim de cessar as hostilidades e construir uma paz duradoura entre Rússia e Ucrânia passa pela combinação de uma liderança crível e uma comunicação coerente, uma vez que a viabilidade das garantias de segurança dependerá, em última instância, de vontade política e da credibilidade daqueles que as conduzem.
Ressentimentos históricos e cultura estratégica como contribuintes da erosão da confiança
O contencioso russo-ucraniano nasce de uma história compartilhada e assimétrica. A Revolução de 1917 derrubou o império e reabriu a disputa sobre quem decidiria o destino político da Ucrânia. Com a formação da URSS em 1922, Moscou reconheceu a república ucraniana, mas integrou suas decisões estratégicas ao centro soviético. A política das nacionalidades acomodou símbolos e língua, porém trouxe práticas de controle que deixaram memória de coerção.
Entre 1932 e 1933, a fome decorrente da coletivização, lembrada na Ucrânia como Holodomor, aprofundou o ressentimento contra o centro soviético e associou soberania à sobrevivência nacional (BRZEZINSKI, 1997). Em 1991, a dissolução soviética recolocou no centro a questão da soberania ucraniana, suas fronteiras, ativos estratégicos e acesso ao mar Negro. Desde então, os dois países reorganizam identidades e alianças sob objetivos distintos: Moscou busca primazia no “exterior próximo”, ao passo que Kyiv procura autonomia política, jurídica e militar para sustentar a independência. A trajetória russa após 1991 foi marcada por expectativas de integração ao Ocidente (ALVES, 2012).
No imediato pós-1991, a posição geopolítica da Ucrânia ganhou peso estrutural. Na Rússia, o colapso soviético combinou perda de capacidade, trauma de status e expectativas de integração “benigna” ao Ocidente. A década de 1990 alternou cooperação seletiva e frustração, sobretudo diante do alargamento atlântico e de intervenções que Moscou leu como demonstrações de unilateralismo (ALVES, 2012). Esse pano de fundo moldou preferências seguidas de frustração, com impacto direto sobre percepções de risco e prestígio.
A Ucrânia herdou, após a dissolução, o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, 1.900 ogivas estratégicas, 176 ICBMs e 44 bombardeiros (BUDJERYN, 2014). O Strategic Arms Reduction Treaty (START I), tratado assinado em 31 de julho de 1991, entre os Estados Unidos da América (EUA) e a, então, URSS, determinou a redução dos armamentos nucleares estratégicos, impondo os limites de ogivas e vetores, com inspeções, trocas de dados etc. Em 1992, o Protocolo de Lisboa tornou Rússia, Belarus, Ucrânia e Cazaquistão partes do START I e vinculou as três novas repúblicas à adesão ao Tratado de Não Proliferação (TNP) como Estados não nucleares (UNITED STATES, 1992). Esse encadeamento técnico-jurídico abriu caminho para a desnuclearização ucraniana e gerou a necessidade de garantias de segurança para reduzir riscos de coerção durante a transição.
Em 05 de dezembro de 1994, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), em Budapeste, capital da Hungria, líderes dos EUA, Reino Unido e Federação Russa assinaram o Memorando de Budapeste (1994), dando entrada em vigor também no START I. O memorando consistiu em propiciar garantias de segurança para seus signatários (UNITED NATIONS, 2021).
As garantias se caracterizaram pelo respeito à independência, à soberania e às fronteiras da Ucrânia; abstenção, pelos três signatários, do uso ou da ameaça de força e de coerção econômica contra a Ucrânia; acionamento do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (CSNU) se a Ucrânia sofresse agressão com armas nucleares (art. 4); garantia negativa de não emprego de armas nucleares contra a Ucrânia, Estado não nuclear do TNP (art. 5); e consultas entre as partes em caso de dúvidas sobre o cumprimento (art. 6) (UNITED NATIONS, 2021). Eram garantias sem “custos automáticos”, ou seja, o texto não previa um mecanismo obrigatório de sanções ou defesa coletiva.
Anos depois, em 27 de maio de 1997, o Ato Fundador OTAN–Rússia, assinado em Paris, buscou gerir o alargamento da OTAN e estabelecer um canal estável de consulta com Moscou, instituindo o Conselho Permanente Conjunto para consultas regulares, cooperação prática e gestão de crises, sem conceder direito de veto à Rússia sobre decisões da Aliança (NATO, 1997). Na esfera militar, a OTAN registrou que executaria a defesa coletiva “por interoperabilidade, integração e reforço”, em vez de “estacionamento permanente de forças de combate substanciais” nos novos Aliados, ressalvando, porém, a necessidade de infraestrutura adequada (NATO, 1997).
Na prática, esse arranjo sinalizou contenção de presença sem limitar rodízios, pré-posicionamento e medidas de prontidão. Mais tarde, após 2014, a OTAN expandiu sua presença no flanco leste, explorando a margem deixada pelo termo “substanciais”, nunca definido no texto (BINNENDIJK, 2022). Do lado russo, o Ato foi recebido como compromisso político ambíguo, tendo em vista que foi útil para manter acesso e visibilidade, insuficiente para travar o alargamento. A intervenção da OTAN em Kosovo, em 1999, sem mandato do CSNU, consolidou em Moscou a percepção de exclusão de decisões europeias e de elasticidade seletiva de normas, corroendo a confiança que o Ato pretendia construir (ALVES, 2012).
Ao final dos anos 1990, formou-se uma visão estratégica russa mais assertiva. A chamada Doutrina Primakov valorizou multipolaridade, autonomia de decisão no “exterior próximo” e oposição à expansão da OTAN (RUMER, 2019). A política externa passou a combinar instrumentos diplomáticos, econômicos, informacionais e militares com maior coordenação. O poder militar recuperou função de fiador de última instância. Essa orientação limitou a margem para concessões em temas que tocam a vizinhança imediata e condicionou a leitura russa sobre processos de adesão e parcerias militares no entorno ucraniano. A aposta em multipolaridade redefiniu alianças táticas e ampliou o custo político de recuos visíveis no teatro pós-soviético.
Na Ucrânia, as disputas políticas internas e a disputa de projetos nacionais foram decisivas. A Revolução Laranja em 2004 corrigiu uma eleição contestada e gerou ajustes institucionais com validação internacional. Relatórios da OSCE destacaram lições sobre integridade eleitoral e governança do processo (OSCE/ODIHR, 2005). Entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, o movimento Euromaidan, caracterizado por uma onda de protestos e distúrbios civis, que teve origem contra a suspensão do Acordo de Associação com a União Europeia, ganhou massa, sofreu repressão e terminou com a queda do, então, presidente Viktor Yanukovych. Em maio de 2014, realizou-se a eleição presidencial antecipada. A OSCE avaliou que a votação foi em grande medida conforme aos compromissos eleitorais, apesar do ambiente de segurança hostil no leste (OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY, 2014).
Em seguida, a crise abriu caminho para a anexação russa da Crimeia e o conflito no Donbass. Kyiv invocou o mecanismo de consultas do Memorando de Budapeste, com o comparecimento de Estados Unidos e Reino Unido, enquanto a Federação Russa declinou (UNITED STATES, 2014). No Conselho de Segurança, a Rússia vetou o projeto S/2014/189 que repudiava o referendo na Crimeia (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2014). A partir daí Kyiv intensificou a cooperação com parceiros euro-atlânticos e passou a demandar arranjos com obrigações claras e custos previsíveis de violação, pois garantias de segurança que sejam apenas políticas, sem verificação e sem gatilhos de resposta, produziam baixo efeito prático (BUDJERYN, 2014).
No que se refere à Crimeia, as contradições e intepretações de leis e acordos políticos também fazem parte do enredo. Em 21 de maio de 1992, a Duma, câmara baixa do Parlamento Russo, declarou “sem força legal” a transferência da soberania política da península da Rússia para a Ucrânia (GOLDBERG, 1992). Em 1997, após longas negociações, russos e ucranianos assinaram os acordos sobre a Frota do Mar Negro, dividindo navios e arrendaram Sebastopol à Marinha russa com prazo até 2017 e reconhecimento da soberania ucraniana (GORENBURG, 2010).
Em 2010, os Acordos de Kharkiv prorrogaram o arrendamento até 2042, com opção de extensão até 2047, e concederam desconto no gás à Ucrânia (HARDING, 2010). Em 2014, após o Euromaidan e a anexação de Crimeia e Sebastopol, a Rússia denunciou os acordos de 1997/2010, rescindindo os descontos de gás (RUSSIAN FEDERATION, 2014). Em seguida, assumiu o controle efetivo da infraestrutura portuária e capturou grande parte da força de superfície ucraniana baseada em Sebastopol (WILK, 2014).
O período 2014–2025 acelerou a tensão. A Rússia consolidou o controle da Crimeia e manteve pressão militar e informacional no leste. Em setembro de 2014, Kiev, Moscou e a OSCE firmaram o Protocolo de Minsk, que previa cessar-fogo, monitoramento e passos políticos iniciais com parâmetros de implementação. Em fevereiro de 2015, o Pacote de Medidas “Minsk II” detalhou retirada de armamento pesado, troca de detidos, anistia, eleições locais em nos oblasts de Donetsk e Luhansk, “status especial” e sequência que colocava o controle da fronteira após o processo político; o Conselho de Segurança endossou o texto pela Resolução 2202.
A OSCE registrou períodos de redução relativa da violência e violações recorrentes, além de restrições ao seu monitoramento, o que limitou a execução dos acordos. Em 2022, a invasão russa em larga escala, sob o pretexto de uma “Operação Militar Especial” para proteção dos cidadãos russos e da cultura russa no leste ucraniano, encerrou o frágil equilíbrio construído por Minsk (RUSSIAN FEDERATION, s.d.).
A erosão da confiança entre Moscou e Kyiv decorre de matrizes de cultura estratégica que produzem leituras opostas de segurança. Para a Rússia, primazia no entorno e ambição de multipolaridade. Para a Ucrânia, soberania plena, autonomia decisória e rejeição de esferas de influência. Esse desencontro alimenta um problema de compromisso onde cada lado vê concessões como ameaça de longo prazo e, por isso, prefere sinalizar força. Kissinger (1994), afirmava que a estabilidade exige calibragem entre fatores permanentes da política internacional e a discrição dos governantes. Quando esse ajuste falha, reputações se degradam e promessas perdem credibilidade.
Após 2014, sobretudo depois de 2022, Kyiv optou por uma comunicação diária e diplomacia de coalizão para convencer a opinião pública ocidental a seu favor, seja na autodeterminação do povo ucraniano, seja na demonização de Vladimir Putin, e converter apoio político em meios, enquanto em Moscou vozes influentes consolidaram uma moldura existencial de que “a Rússia não pode se dar ao luxo de perder”, afirmou Sergey Karaganov (2022).
O saldo dessa trajetória é claro. Budapeste resolveu um problema nuclear e não criou custos automáticos para violações. O Ato Fundador estruturou cooperação e ficou aquém de um regime de segurança compartilhado. Os marcos legais subsequentes preservaram canais de consulta, mas não sanaram as divergências advindas da cultura estratégica de cada país. A Ucrânia avançou para uma soberania que requer lastro externo e capacidade própria de defesa.
A Rússia reafirmou multipolaridade, primazia no entorno e papel de coerção como instrumento legítimo. O problema de compromisso, típico de garantias de segurança entre atores que desconfiam do futuro, tornou-se central, resultando em identidades cristalizadas e sinais estratégicos dissonantes. Assim sendo, a tolerância às fórmulas vagas diminui e a credibilidade de arranjos sem acionamentos claros se esvai, dependendo quase que exclusivamente à personalidade da liderança estratégica.
Opções e arranjos possíveis para o caso russo-ucraniano
A arquitetura de garantias de segurança precisa combinar clareza de obrigações, verificação independente e mecanismos de execução que elevem o custo da violação. Esse tripé aumenta a credibilidade porque liga promessa a comportamento observável e a consequências previsíveis
No topo do espectro, um tratado de defesa coletiva reduz ambiguidade e comunica assistência imediata em caso de agressão, mas cobra preço político alto e tem aceitabilidade russa mínima. O exemplo que funcionou foi a invocação do Artigo 5 pela OTAN em 12 de setembro de 2001, que gerou medidas concretas, como a ativação da International Security Assistance Force, uma força multinacional liderada pela OTAN no Afeganistão entre os anos de 2001 e 2014, e confirmou o efeito dissuasório do compromisso (NATO, 2023).
Por outro lado, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança político-militar formada por Estados pós-soviéticos a partir do Tratado de Segurança Coletiva de Tashkent, mostrou desempenho fraco quando a Armênia apelou por ajuda após os ataques azeris em setembro de 2022. Tratados de defesa coletiva funcionam melhor porque embutem custos visíveis de não cumprimento e expõem o fiador a penalidades reputacionais e políticas; assim, cumprir passa a ser a escolha racional do fiador, e não apenas um gesto de boa-vontade (KNOPF, 2012).
O meio-termo é um pacto com obrigações mensuráveis e ações previamente vinculadas, tais como violação verificada, sanções automáticas, comissão conjunta com prazos curtos e cláusula de revisão. Um caso que funcionou, ainda que de modo parcial e temporal, foi o Joint Comprehensive Plan of Action, um acordo nuclear fechado em 14 de julho de 2015, em Viena, entre Irã e o grupo compostos por China, EUA, França, Alemanha, Reino Unido e Rússia. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) confirmou a implementação das obrigações nucleares iranianas nos primeiros anos, enquanto vigoravam sanções reversíveis (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2016). O acordo, porém, deteriorou-se após 2018, quando os EUA se retiraram e o Irã iniciou passos de reversão (HOLPUCH, 2018).
O exemplo de fracasso na dissuasão da violação territorial é o Memorando de Budapeste. Ele continha garantias políticas frágeis, possibilidades de consultas, mas não previu acionadores obrigatórios de resposta. Em suma, serviu para desnuclearização, mas não evitou as rupturas da Crimeia, em 2014, e do leste ucraniano em 2022. Quando garantias de segurança são definidas sem mecanismos de custo embutidos perdem poder de dissuasão quando a relação é de alta desconfiança (KNOPF, 2012).
Na base do espectro, um cessar-fogo/armistício com linhas verificadas, zonas de desmilitarização, canais diretos e medidas de transparência reduz surpresas e controla incidentes. O exemplo que funcionou foi o Armistício da Coreia, assinado em 27 de julho de 1953, que criou a zona de desmilitarização e mecanismos de supervisão. O acordo foi tido como imperfeito por muitos analistas, mas suficiente para congelar o conflito até os dias atuais e reduzir o risco de guerra aberta por décadas (UNITED NATIONS COMMAND, s.d.).
Por outro lado, os Acordos de Minsk I e II, foram ineficazes em cessar as hostilidades, pois violações se tornaram recorrentes, caracterizadas por um período de conflito de baixa intensidade protagonizado por atores não estatais patrocinados por Moscou, (UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL, 2015). Sem alavancas de custo, entretanto, tais pacotes funcionam apenas como barreiras de atrito e não como garantias de alto impacto (KNOPF, 2012).
Impasses como o russo-ucraniano têm como caminho viável a combinação de garantias negativas com assistência positiva faseada, evitando cláusulas explícitas de defesa coletiva. As garantias negativas são caracterizadas por compromissos de abstenção escritos em um instrumento normativo, seja ele um tratado, protocolo, acordo político escrito ou qualquer outra resolução com linguagem normativa. Elas delimitam condutas proibidas, o escopo (quem protege e onde), as condições e, em geral, as exceções, como a legítima defesa. Diferem das garantias positivas porque não obrigam assistência ativa automática. Um roteiro para a assistência positiva faseada iniciaria com um congelamento verificável na linha de contato no campo de batalha e uma retirada escalonada de meios ofensivos.
A fase seguinte consiste em uma missão internacional, composta, via de regra, por militares não pertencentes aos aliados dos contendores, com mandato robusto e tabela de sanções automáticas graduadas. Por fim, uma normalização econômica condicionada a ações de prevenção contra violações das garantias e ao fortalecimento continuo da integridade.
Os domínios marítimo e aéreo também necessitam de arranjos específicos de segurança. Um acordo com regras de encontro, distâncias mínimas, canais de emergência e notificação prévia de exercícios reduz o risco de escalada não intencional. A extensão para o ar, como rotas segregadas, planos de voo previamente notificados e centro conjunto de controle de tráfego aéreo melhora a previsibilidade e coíbe a intenção de manobras arriscadas, sobretudo em missões de inteligência, vigilância e reconhecimento próximas à linha de contato.
Em suma, toda essa arquitetura depende da compreensão que a violação está vinculada à uma reação com um custo elevado e se foi publicamente entendida? Sem algum grau de automaticidade, mesmo que setorial, a credibilidade cai (KNOPF, 2012). Da mesma maneira, a missão terá acesso, proteção e mandato técnico para certificar fatos?
A verificação precisa estar desenhada no instrumento, não em anexos vagos (OSCE, 2011). E por fim, o arranjo evita colidir com cláusulas sensíveis previamente assumidas? Casos essas respostas sejam negativas, o aperto de mão e assinaturas em papel por parte das lideranças estratégicas envolvidas serão meras peças teatrais que não impedirão mortes no campo de batalha e dificultarão a construção da paz.
Liderança estratégica e comunicação: a credibilidade como fiadora das garantias de segurança
Liderar estrategicamente é ligar memória ao futuro e valores aos objetivos, definindo fins, alinhando meios e aceitando custos sob escassez de informação, pressão do tempo e competição adaptativa. Nesse ambiente, credibilidade nasce quando promessa e comportamento convergem e o governante calibra riscos com prudência. Em termos operacionais, a decisão estratégica se equilibra em uma linha muito tênue em que a ambição excessiva leva ao esgotamento e a complacência conduz à irrelevância (KISSINGER, 2022).
A comunicação estratégica é conjunto de mensagens que o líder estratégico difunde. Ela integra planejamento, mensagem e conduta para produzir efeitos em atitudes e comportamentos de públicos relevantes, com coerência e velocidade (SCHWETHER, 2024a). Na OTAN, a função foi adaptada a um meio informacional complexo, com papéis, processos e responsabilidades definidos para evitar fragmentação e alinhar a fala institucional ao objetivo político (SCHWETHER, 2024b). No Brasil, a reflexão doutrinária destaca que comunicação estratégica é prática deliberada, integrada ao planejamento institucional e ao ambiente informacional, articulando narrativa, imagem e reputação como ativos estratégicos (NUNES, 2019).
A cultura estratégica molda o que cada liderança percebe como aceitável. Ela aglutina ideias e práticas, enraizada em geografia e memória, que estreita o repertório do “legítimo” sem determinar mecanicamente a ação (LEITE, 2021). No caso russo, a busca de status e multipolaridade após os anos 1990 compôs um retorno assertivo à cena internacional, com ênfase em autonomia decisória e primazia no entorno (ALVES, 2012). Essa matriz dialoga com a leitura de que a estabilidade global exige rever métodos e integrar uma Rússia forte e previsível a arranjos de cooperação, sob pena de riscos sistêmicos (PRIMAKOV, 2004). Para a Ucrânia e seus parceiros, a gramática geopolítica conserva a noção de pivôs e equilíbrios na Eurásia, em que sinais de compromisso e alinhamentos são lidos como movimentos no “tabuleiro” maior (BRZEZINSKI, 1997).
Credibilidade, portanto, não se declara, mas constrói-se com governança de sinais observáveis. No lado russo, a condução política utilizou uma moldura de segurança existencial para justificar custos e demonstrar força às audiências interna e externa, reduzindo o espaço para concessões sem contrapartidas visíveis (PRIMAKOV, 2004). No lado ucraniano, a opção por permanecer na capital, comunicar-se diariamente e praticar diplomacia de coalizão converteu apoio político em meios (SCHWETHER, 2024a). Em ambos os casos, audiências medem a confiança de acordo com o gap entre palavra e ato, o que torna comunicação estratégica parte indissociável da própria estratégia (SCHWETHER, 2024b).
Para garantias de segurança serem críveis, liderança e comunicação precisam andar lado a lado. Primeiro, reduzir o say–do gap, onde decisões, posturas e desdobramentos devem reforçar a narrativa, não desmenti-la (NUNES, 2019). Segundo, sincronizar tempo e espaço, evitando que a mesma mensagem produza efeitos distintos fora do momento psicológico adequado ou do terreno cognitivo errado (SCHWETHER, 2024a). Assim sendo, a liderança eficaz liga análise histórica, gestão de risco e mensagem coerente para produzir credibilidade como o verdadeiro centro de gravidade de qualquer arquitetura de garantias de segurança. (KISSINGER, 2022).
Diplomacia militar como estabilizador e a experiência brasileira como referência
A diplomacia militar opera onde a retórica política costuma falhar. Esse “ethos militar comum” que envolve disciplina, hierarquia, honra e proteção de não combatentes desenvolve uma linguagem de cooperação entre adversários e viabiliza arranjos de estabilização, verificação e contenção de riscos. Em termos práticos, os canais incluem aditâncias de defesa, reuniões de Estado-Maior, linhas diretas de crise, equipes de ligação, regras de encontro no mar e em áreas fronteiriças, visitas recíprocas a unidades, exercícios controlados e inspeções. A finalidade é reduzir incerteza e “ganhar tempo” para a diplomacia política, mantendo controle de escalada. Na lógica clássica, diplomacia eficaz “abre espaço para transações possíveis”, evitando que diferenças se transformem em antagonismos irreparáveis (KISSINGER, 1994).
O caso brasileiro ilustra como esse instrumento se apoia em credibilidade operacional e empatia cultural. Na África Austral, o Brasil combinou comando de operação com presença robusta em terreno, articulando segurança com tarefas cívico-militares, um padrão que reforçou confiança local e entre contingentes (IPEA, 2010). Em Moçambique, a ONUMOZ contou com comando militar brasileiro e efetivos de infantaria, paraquedistas, observadores e unidade médica.
Análises posteriores evidenciaram que o envolvimento uniu “projeção de poder” e “prestação de solidariedade” (KENKEL; MORAES, 2012). Em Angola, a UNAVEM III elevou o patamar do desdobramento brasileiro com o emprego de batalhão de infantaria, uma companhia de engenharia, postos de saúde e dezenas de observadores e oficiais no Estado-Maior da operação, colocando o Brasil entre os maiores contribuintes de tropa em 1996 (KENKEL; MORAES, 2012).
Na Ásia, o engajamento em Timor-Leste ocorreu com o emprego de observadores, policiais, oficiais de ligação e tropas de Polícia do Exército. Além da atuação de segurança, a presença brasileira foi percebida como gesto de afinidade histórica e linguística, facilitando cooperação com líderes locais (KENKEL; MORAES, 2012). Na América Caribenha, a MINUSTAH projetou ao mundo a capacidade de liderança militar brasileira ao manter um general no comando do Componente Militar por toda a missão (2004–2017), algo sem precedentes em operações da ONU, o que reforçou a previsibilidade de comando e o diálogo civil-militar com autoridades haitianas (VIEIRA NETO, 2018).
A tradição interamericana também oferece exemplo na crise da República Dominicana (1965), quando a Organização dos Estados Americanos criou a Força Interamericana de Paz e designou o comando aos generais brasileiros, estruturando coordenação entre contingentes regionais e um mecanismo de separação de forças (UNITED STATES, 2005).
No Oriente Médio, a UNEF I (Suez) mostrou a diplomacia militar brasileira em um conflito entre Estados. O chamado “Batalhão Suez” integrou a força de emergência a partir de 1957 e, ao longo de uma década, o Brasil desdobrou cerca de 6.300 militares e chegou a comandar a operação em dois períodos, atuando operacionalmente junto a egípcios e israelenses sob mandato multilateral (ANDRADE; HAMANN; SOARES, 2021).
A participação brasileira na primeira geração de peacekeeping é referência recorrente nas sínteses sobre inserção internacional do país, como ponto de partida de uma trajetória que mais tarde incluiria comandos em Moçambique, Angola e no Haiti (ACIOLY; CINTRA, 2010).
A experiência brasileira sugere que a diplomacia militar estabiliza relações beligerantes quando faz convergir um ethos profissional compartilhado que legitima regras de conduta entre antigos adversários, com canais permanentes capazes de transformar confiança em procedimentos de verificação, estabilização e resposta, e com presença em campo conduzida por liderança disciplinada e culturalmente empática. Assim foi em Angola, Timor-Leste, Haiti, na República Dominicana e, em cenário interestatal, em Suez, onde a combinação de profissionalismo e imparcialidade preservou pontes políticas enquanto se executava o mandato (BRASIL, 2012).

Para contenciosos de alta densidade estratégica, como o russo-ucraniano, essa experiência aponta a utilidade de conversas militares contínuas, não somente entre os contendores, mas também com a participação de lideranças militares críveis. Dessa forma, a diplomacia militar previne incidentes, bem como oferece credibilidade para a adoção de qualquer medida de estabilização, de mandatos claros e proporcionais com avaliação periódica do emprego da força e de cooperação civil-militar orientada a resultados tangíveis para as populações afetadas.
Conclusão
As garantias de segurança no contencioso russo-ucraniano só terão efeito se acoplarem desenho institucional claro a lideranças capazes de sustentar compromissos no tempo. O problema não é apenas jurídico, mas é político-estratégico. Acordos funcionam quando conectam promessa, capacidade e vontade e, sobretudo, quando comunicados de modo coerente às audiências que julgam sua legitimidade. Na atual Era da Competição marcada por assimetrias de poder e ressentimentos históricos, a estabilidade nasce do ajuste entre fatores permanentes imutáveis, como a geografia e a história, e a discrição dos governantes ao calibrar fins, meios e custos.
Quando essa calibragem falha, reputações se degradam, viram memes nas redes sociais e compromissos soam vazios (KISSINGER, 1994). Nessa moldura, garantias de segurança eficazes exigem obrigações inequívocas, verificação com acesso real e custos previsíveis para a violação. Isso tudo, não como gesto simbólico, mas como regra de decisão reconhecida por todos.
O ambiente de disputa informacional acrescenta outra camada: versões concorrem com fatos e podem distorcer preferências, ampliar desconfianças e encarecer o compromisso. Em termos práticos, isso impõe uma disciplina adicional às lideranças. Faz se necessário o exercício da liderança sob a égide da ética e da transparência, reduzindo o gap entre palavra e ato, sincronizando sinais no tempo e no espaço, e blindando o processo contra ilusões e slogans que corroem a confiança pública (COUTINHO, 2010).

Pres. Bill Clinton, Presidente Russo Yeltsin & Pres. Ucraniano Leonid Kravchuk assinam desarmamento nuclar durante encontro no Kremlin
Quanto mais densa a névoa da guerra, como diz Clausewitz, agora também na dimensão informacional, maior a necessidade de cronogramas verificáveis, linhas no terreno e de conduta bem definidas e exequíveis e comunicação consistente para aliados, adversários e públicos domésticos. Sem esse lastro, fórmulas ambíguas convidam a aventurar os limites das garantias e deslocar o jogo para o terreno do acaso.
O ponto decisivo, contudo, permanece a credibilidade das lideranças que conduzem o processo. Ela se constrói na relação entre intenção, decisão e entrega. Por isso, acordos com mecanismos claros podem reduzir a tentação do oportunismo, mas não substituem a necessidade de estadistas que aceitem custos imediatos para moldar a estabilidade no longo prazo. O fato é, que vontade e credibilidade são o centro de gravidade de qualquer arquitetura de garantias de segurança porque, quando o cálculo é existencial e a história pesa, a diferença entre um texto que vira dissuasão e um texto que vira papel está menos na redação perfeita e mais na capacidade de liderar com prudência, coerência e constância
Por fim, vale registrar o corolário que percorreu este trabalho: mesmo onde a política se exaure, ainda há uma ponte possível. A interação profissional, fundada em ética militar comum, permite estabilizar relações antes beligerantes e manter canais mínimos de previsibilidade. Ela não resolve o contencioso, mas cria condições para que lideranças credíveis transformem garantias em paz praticável. É aqui que o texto encontra a vontade e onde a história, que só oferece analogias, deixa espaço para escolhas responsáveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ACIOLY, Luciana; CINTRA, Marcos Antonio Macedo (org.). Inserção internacional brasileira: temas de política externa. Livro 3 – Volume 1. Brasília: Ipea, 2010. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/server/api/core/bitstreams/cdbc687b-6272-4106-9dca-09969c072383/content. Acesso em: 22 ago. 2025.
ALVES, André Gustavo de Miranda Pineli (org.). O renascimento de uma potência? A Rússia no século XXI. Brasília: Ipea, 2012.
ANDRADE, Israel de Oliveira; HAMANN, Eduarda Passarelli; SOARES, Matheus Augusto. Brazil’s participation in United Nations peacekeeping operations: Evolution, challenges, and opportunities. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2021. (Discussion Paper, n. 254). DOI: 10.38116/dp254. Disponível em: https://hdl.handle.net/10419/247228. Acesso em: 20 ago. 2025.
BRASIL. Senado Federal. Defesa nacional: forte, jamais agressivo. Em Discussão!: revista de audiências públicas do Senado Federal, Brasília, v. 3, n. 10, p. 1–86, mar. 2012. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242340. Acesso em: 21 ago. 2025.
BRZEZINSKI, Zbigniew. The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. New York: Basic Books, 1997.
BUDJERYN, Mariana. The Breach: Ukraine’s Territorial Integrity and the Budapest Memorandum. Washington, DC: Woodrow Wilson International Center for Scholars, Nuclear Proliferation International History Project (NPIHP Issue Brief, n. 3), 2014.
GOLDBERG, Carey. Giving Crimea to Ukraine Was Illegal, Russians Rule: Commonwealth: Parliament’s vote brings tensions between the two powers close to the boiling point. Los Angeles Times, Los Angeles, 22 maio 1992. Disponível em: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1992-05-22-mn-278-story.html. Acesso em: 22 ago. 2025.
GORENBURG, Dmitry. The future of the Sevastopol Russian navy base. Russian Military Reform, 22 mar. 2010. Disponível em: https://russiamil.wordpress.com/2010/03/22/the-future-of-the-sevastopol-russian-navy-base/. Acesso em: 20 ago. 2025.
HARDING, Luke. Ukraine extends lease for Russia’s Black Sea Fleet. The Guardian, Londres, 21 abr. 2010. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2010/apr/21/ukraine-black-sea-fleet-russia. Acesso em: 21 ago. 2025.
HOLPUCH, Amanda. Donald Trump says US will no longer abide by Iran deal – as it happened. The Guardian, Londres, 8 maio 2018. Disponível em: https://www.theguardian.com/world/live/2018/may/08/iran-nuclear-deal-donald-trump-latest-live-updates. Acesso em: 22 ago. 2025.
INSTITUTE; CCOPAB (org.). Brazil’s participation in MINUSTAH (2004–2017): perceptions, lessons and practices for future missions. Rio de Janeiro: Igarapé Institute; CCOPAB, 2018.
KARAGANOV, Sergey. “Russia cannot afford to lose, so we need a kind of a victory.” New Statesman, 28 mar. 2022. Disponível em: https://www.newstatesman.com/world/europe/ukraine/2022/04/russia-cannot-afford-to-lose-so-we-need-a-kind-of-a-victory-sergey-karaganov-on-what-putin-wants. Acesso em: 23 ago. 2025.
KISSINGER, Henry. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994.
KISSINGER, Henry. Leadership: Six Studies in World Strategy. New York: Penguin Press, 2022.
KNOPF, Jeffrey W. (org.). Security Assurances and Nuclear Nonproliferation. Stanford: Stanford University Press, 2012.
LEITE, Carlos Alberto. Os contornos epistemológicos da cultura estratégica: uma abordagem comparativa. Hoplos – Revista de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais, v. 5, n. 9, p. 70–91, 28 dez. 2021. Disponível em: https://periodicos.uff.br/hoplos/article/view/51945. Acesso em: 23 ago. 2025.
NATO. Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation. Paris, 27 maio 1997. Bruxelas: NATO, 1997. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_25468.htm. Acesso em: 25 ago. 2025.
NATO. Strategic Communications—Hybrid Threats Toolkit. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence, 2021.
NATO. Collective defence – Article 5. Brussels: NATO, 2023. Disponível em: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm. Acesso em: 21 ago. 2025.
RUMER, Eugene. The Primakov (Not Gerasimov) Doctrine in Action. Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2019.
OSCE. Vienna Document 2011 on Confidence- and Security-Building Measures. Viena: OSCE, 2011. Disponível em: https://www.osce.org/fsc/86597. Acesso em: 27 ago. 2025.
OSCE PARLIAMENTARY ASSEMBLY. Ukraine: presidential election, 25 May 2014 — Statement of Preliminary Findings and Conclusions. Copenhagen: OSCE Parliamentary Assembly, 2014. Disponível em: https://www.oscepa.org/en/documents/election-observation/election-observation-statements/ukraine/statements-25/2393-2014-1-presidential-eng-1/file. Acesso em: 20 ago. 2025.
OSCE/ODIHR. Ukraine, Presidential Election, 31 October, 21 November and 26 December 2004: Final Report. Varsóvia: OSCE/ODIHR, 2005. Disponível em: https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/14673.pdf. Acesso em: 21 ago. 2025.
PRIMAKOV, Yevgeny. Russian Crossroads: Toward the New Millennium. New Haven: Yale University Press, 2004.
RUSSIAN FEDERATION. Ministry of Foreign Affairs. Embassy of the Russian Federation in the People’s Republic of China. About the special military operation in Ukraine. Beijing: MFA of Russia, [s.d.]. Disponível em: https://pekin.mid.ru/en/news/about_the_special_military_operation_in_ukraine/. Acesso em: 26 ago. 2025.
RUSSIAN FEDERATION. President of Russia. Termination of agreements on the presence of Russia’s Black Sea Fleet in Ukraine. Moscow: President of Russia, 2 abr. 2014. Disponível em: http://www.en.kremlin.ru/events/president/news/20673. Acesso em: 21 ago. 2025.
SCHWETHER, Natália Diniz. Comunicação estratégica: primeiros aportes. Centro de Estudos Estratégicos do Exército: Análise Estratégica, v. 34, n. 3, p. 27–41, 9 set. 2024a. Disponível em: https://ebrevistas.eb.mil.br/CEEExAE/article/view/13001/10322. Acesso em: 21 ago. 2025.
SCHWETHER, Natália Diniz. A comunicação estratégica na Aliança Atlântica: conceito, estrutura e prática. Centro de Estudos Estratégicos do Exército: Análise Estratégica, v. 35, n. 4, p. 29–43, 22 nov. 2024b. Disponível em: https://ebrevistas.eb.mil.br/CEEExAE/article/view/13160/10421. Acesso em: 22 ago. 2025.
UNITED NATIONS. Treaty Series: treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat. v. 3007. New York: United Nations, 2021. Disponível em: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/v3007.pdf. Acesso em: 23 ago. 2025.
UNITED NATIONS COMMAND. 1951–1953 Armistice Negotiations. [s.l.]: United Nations Command, [s.d.]. Disponível em: https://www.unc.mil/History/1951-1953-Armistice-Negotiations/. Acesso em: 21 ago. 2025.
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Draft resolution S/2014/189. New York: United Nations, 15 mar. 2014. Disponível em: https://docs.un.org/en/S/2014/189. Acesso em: 22 ago. 2025.
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Resolution 2202 (2015). New York: United Nations, 17 fev. 2015. Disponível em: https://docs.un.org/en/S/RES/2202(2015). Acesso em: 22 ago. 2025.
UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. Letter dated 9 November 2016 from the Director General of the International Atomic Energy Agency addressed to the President of the Security Council. New York: United Nations, 21 nov. 2016. Disponível em: https://docs.un.org/en/S/2016/983. Acesso em: 22 ago. 2025.
UNITED STATES. Department of State. Office of the Historian. Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXXII: Dominican Republic; Cuba; Haiti; Guyana. Document 85 – Editorial Note. Washington, DC: U.S. Department of State, 2005. Disponível em: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v32/d85. Acesso em: 21 ago. 2025
UNITED STATES. Department of State. Office of the Spokesperson. U.S./U.K./Ukraine Press Statement on the Budapest Memorandum Meeting. Washington, DC: U.S. Department of State, 5 mar. 2014. Disponível em: https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/03/222949.htm. Acesso em: 20 ago. 2025.
UNITED STATES. Treaty on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (START I). Moscou, 31 jul. 1991. Washington, DC: U.S. Department of State, 1991. Disponível em: https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/146007.htm. Acesso em: 23 ago. 2025
UNITED STATES. Protocol to the Treaty Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (Lisbon Protocol). Lisboa, 23 maio 1992. Washington, DC: U.S. Department of State, 1992. Disponível em: https://2009-2017.state.gov/documents/organization/27389.pdf. Acesso em: 22 ago. 2025.
VIEIRA NETO, Floriano Peixoto. The Brazilian military experience in Haiti. In: IGARAPÉ
WILK, Andrzej. Russian military intervention in Crimea. Warsaw: OSW – Centre for Eastern Studies, 5 mar. 2014. Disponível em: https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-03-05/russian-military-intervention-crimea. Acesso em: 21 ago. 2025.
O post Garantias de Segurança na Era da Competição: Como a Liderança, Comunicação Estratégica e Diplomacia Militar se manifestam no contencioso entre Rússia e Ucrânia apareceu primeiro em DefesaNet.